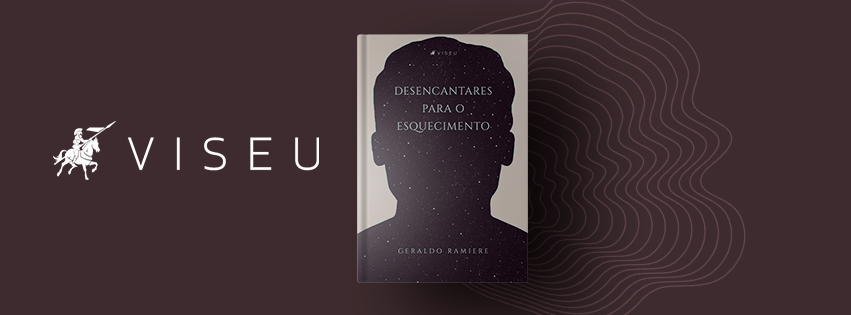LIVREMENTE
Mesmo se a cabeça dói
Minha mente continua
Livre e verdadeira
Apesar de tantas mentiras
E maldades, preconceitos
Que destroem vidas inteiras
São as reais enfermidades
Que aprisionam as pessoas
Mesmo se a cabeça dói
Minha mente continua
Livre e verdadeira
Apesar de tantas mentiras
E maldades, preconceitos
Que destroem vidas inteiras
São as reais enfermidades
Que aprisionam as pessoas
Mesmo se a cabeça dói
Minha mente continua
Livre e verdadeira
Ignorando tanta asneira
Pés descalços dançam
Pisando na grama ou na areia
Movidos pela música
Que segue o ritmo do coração
Se tua cabeça dói
Doe-se de alguma maneira
Na primeira chance
Porque pode ser a derradeira
Pois a falta e o desperdício
São os que provocam a dor
E numa dessas noites pretas
Talvez possa ser que a gente parta
Sem despedida ou explicação
Seguindo os passos, ventanias
Mas que nada, a estrada
Da partida é a mesma da chegada
Mesmo se a cabeça dói
Bem mais do que livre
Amor tem é que libertar
Livre a mente e tudo que se sente
E se toda festa é um “reggae”
Bora regguear, vamos regguear
Mas guarde esse beijo pra mim
Geraldo Ramiere
* letra escrita há dois anos atrás que até hoje ninguém musico; para quem se interessar, fica o convite.
IMAGEM: pintura de Christian Schloe